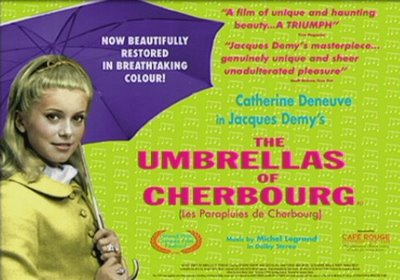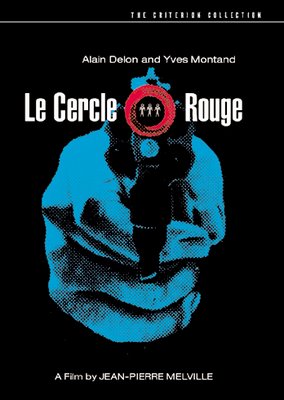FILMES
Já destaquei o academismo e o conjunto de estreias que invadem as salas sem que se vislumbre qualquer critério por parte de quem tem a responsabilidade de definir a programação. Existem no entanto obras que merecem destaque individual, pois, por razões diversas, marcaram negativamente o ano.
Pride and Prejudice
Risível adaptação de Jane Austen, que recebeu considerável apoio crítico e destaque mediático. Um tratamento visual anónimo, uma realização incompetente, desempenhos que parecem destinados a uma comédia nonsense. Tenebroso filme, a fazer certamente a autora de Sense and Sensibility revirar-se no túmulo!
Gabrielle
Patrice Chéreau, autor do desafiante Intimacy, regressou com novo projecto arrojado. Apesar das louváveis intenções, Gabrielle é um objecto de identidade vaga, oscilando entre os extremos do teatro filmado e de um abstraccionismo demasiadamente radical. Um filme com bons momentos, perdidos num mar de verborreia sonolenta proclamada em off que testa a paciência do mais estóico dos espectadores.
The Aristocrats
Colectânea de insultos de indescritível mau gosto disfarçada de documentário sobre o mundo da comédia stand-up. Cinema = ZERO.
Mission: Impossible III
O famoso produtor televisivo de Lost abraçou a realização da terceira encarnação do agente Ethan Hunt. Abrams mimetizou para o grande ecrã os visuais e o espírito narrativo da série Alias que o lançou para o sucesso. Tal como em Alias o único elemento de interesse é o carisma da protagonista, aqui a força de Tom Cruise segura o barco. Mas o resto - twists absurdos, um estilo visual marcado por grandes planos e uma sucessão acelerada, por vezes nauseante, de imagens e um completo desprezo pelas mais elementares regras do storytelling - faz ainda menos sentido que no pequeno ecrã e traduz uma contaminação de espaços que não tem só aspectos positivos.
The Proposition
Projecto independente rodeado de expectativas que pariu um gordo e rechunchudo rato. Carregado de violência gratuita e indigência visual, é o retrato de um cinema que quer ser indie, mas esquece-se de ser cinema.
98 Octanas
Marcado por uma patológica obssessão com a Nouvelle Vague e particularmente com Godard, este 98 Octanas tem tudo o que de negativo têm os últimos filmes de Godard, com alguns bónus extra. Disconexo e testando os limiares do pretenciosismo, atinge dimensões de ridículo surpreendentes, mesmo para um cinema português fértil no capítulo das megalomanias autorais. Para onde vai 98 Octanas? Para lado nenhum. E onde é que isso fica? Esperemos que longe, muito longe!
Lady in the Water
Shyamalan é porventura a maior revelação do cinema mundial da última década. Em meia dúzia de filmes construiu um universo com uma marca autoral sólida, visualmente arrebatador e com densidade ímpar. Pode até dizer-se, passe o exagero, que muita da esperança da sobrevivência do cinema clássico e de renovação do mesmo assenta nos ombros do jovem cineasta de Filadélfia. Mas, em Lady in the Water, Shyamalan deixou de acreditar no transcendente e passou a acreditar cegamente que ele era o Messias. A Fé nas imagens e no Cinema passou assim a ser a Fé no poder messiânico da sua própria história e na infalibilidade do seu cinema. Lady in the Water é assim um filme proclamativo, demagógico e maniqueísta, vítima ele próprio de muito daquilo que pretende criticar. É um objecto perigoso, pois vem embrulhado no papel dos belos visuais proporcionados pelo inegável talento de Shyamalan e do director de fotografia Christophe Doyle. Felizmente poucos mais convenceu que os grupos de fãs do realizador e alguns autoristas fanáticos. Recomenda-se a propósito o visionamento do pouco conhecido Wide Awake, segunda longa metragem do realizador e uma pequena obra prima, de um tempo em que o realizador se limitava a acreditar em Deus, não se julgando a sua encarnação terrena.
The Science of Sleep
Michel Gondry já havia nos havia trazido o simpático mas inconsequente Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Confirma-se agora que Gondry, grande realizador de videoclips, não tem, pelo menos por ora, dimensão como cineasta. The Science of Sleep é uma colecção de lugares comuns mal ligados, martelados por um universo visual oriundo de um videoclip de Björk. Cheio de chico espertices, armado aos cucos e nascido no ninho da preguiça intelectual é um filme completamente idiota.